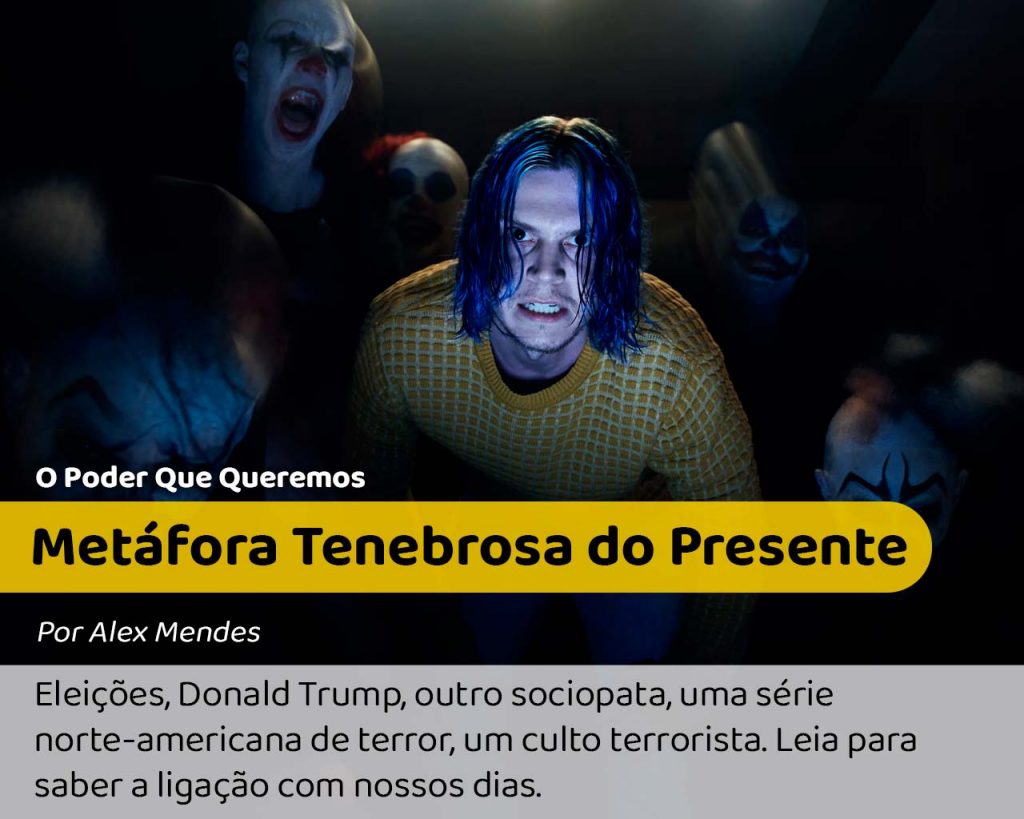Época de eleições municipais no país e um evento político nos Estados Unidos da América sacode o mundo inteiro: Donald Trump perde a eleição para presidente para Joe Binden por uma diferença considerável. Isso me fez lembrar o enredo de uma série de televisão a que assisti em 2018. O que tudo isso tem a ver, uma coisa com a outra? Leia esse texto até o final para descobrir.
Eu sou fã das produções de terror de todas as épocas. Terror é um dos meus gêneros temáticos favoritos para a literatura, o cinema e a televisão, e sempre tenho boas surpresas assistindo a produções do tipo. Não quero impor o meu gosto, entendo perfeitamente quem não seja curioso ou realmente não goste de ver as cenas que sobressaem no gênero: violência, morte, o sobrenatural, a existência de seres imaginários, entre outras coisas. Mas isso não tira dessas obras características qualitativas importantes que valem a pena os sustos e surpresas, o sangue ou as situações abjetas.
Uma produção que chamou muito a minha atenção foi a sétima temporada da série American Horror Story, à qual assisti em 2018, cujo título é Cult (culto, em inglês), que trata da ação de um grupo terrorista que atua em torno do culto de uma personalidade psicopata, imitando a Charles Manson, que durante dois anos (1968 e 1969), atraiu jovens perturbados ao seu redor, que ao seu comando, cometeram assassinatos cruéis, acreditando deflagrar guerra racial apocalíptica que mudaria o mundo.
Por se tratar de uma história que mistura terror psicológico e cenas slasher, cheia de violência gráfica e gratuita, é natural que se abuse do insólito, do absurdo. Para chamar a atenção de espectadores cada vez mais insensíveis à violência, uma produção desse tipo tem de mostrar cenas cheias de sustos (jump scares) e com reviravoltas surpreendentes a cada episódio. Isso tudo, no entanto, tem que se equilibrar com algo que traga verossimilhança, ou seja, características que tornem plausível e possível a aceitação da história pelo leitor. Diferente da veracidade, que mostra a realidade como vivemos fora das telas, a verossimilhança estabelece uma espécie de acordo entre o espectador e a história em si, dando elementos para que a fantasia paire sobre um mínimo de realidade. É aí que entram os elementos da realidade social estadunidense do século XXI. A arte imita a vida.
O protagonista da série é Kai Anderson, um sociopata manipulador que resolve entrar para a política, após a vitória de Donald Trump para presidente nos EUA. Sua meta é tornar-se conselheiro (vereador) de sua região enquanto manipula pessoas especialmente escolhidas para formar um grupo de agentes terroristas, psicopatas, capazes de matar ao seu comando e espalhar pela vizinhança, o medo e a violência, que o ajudariam em sua plataforma de campanha contra tudo o que amedronta a todos. Além disso, ele ajuda a acirrar o ódio racial contra imigrantes, fazendo alusão à xenofobia de Trump. Para cooptar seus seguidores, no entanto, o sociopata aborda membros de diversos grupos identitários, prometendo a eles a possibilidade de agir concretamente contra o medo que os oprimia. De fato, Anderson acirrava os preconceitos para, após isso, oferecer ajuda contra eles, propondo a criação de um grupo terrorista que impactaria o mundo e traria uma mensagem importante de ação contra o que o mundo se tornou. Nada faz sentido, a não ser a sede de sangue de Anderson, sua manipulação. O que nos interessa aqui, é que ele traz para seu grupo um gay e uma lésbica.
A contradição é absurda, mas a própria história explica o sentido de tudo. Anderson pretende explorar as fraquezas e medos dos indivíduos de seu grupo, através de uma estratégia cruel que inclui potencializar as humilhações sofridas pelos grupos considerados à margem. Ao mesmo tempo, Anderson tenta potencializar o ódio sentido por quem se sente prejudicado pela diversidade, através de uma pessoa, representada por um homem branco, vivido por Chaz Bono, o ativista LGBTQIAP+, filho de Cher, denominado Gary, sequestrado por duas mulheres e acorrentado, depois que ele abusou de uma delas, tocando em seu corpo sem permissão. As garotas pretendiam impedi-lo de votar em Trump, que para Gary, traria de volta o país em que ele, homem, tivesse o direito de ser homem e agir como homem. Anderson oferece a ele a oportunidade de se soltar, cortando sua própria mão presa com uma serra, para que ele possa, algo que ele realiza imediatamente, entrando para o culto de Anderson, logo em seguida.
Harrison é gay, mas casa-se com Meadow, sua amiga dos tempos de escola, para que ambos não vivam sozinhos. Com a eleição de Barack Obama, ele começa a colecionar armas com medo de que a Segunda Emenda da Constituição Americana seja questionada pelo presidente. Ele se ressente de sua esposa, porque quer ter liberdade para viver a sua parcialmente reprimida homossexualidade. Harrison é constantemente ofendido por seu chefe homofóbico na academia em que trabalha. Kai Anderson, ao perceber isso o convence de que sua vida não tem sentido porque é constantemente humilhado por seu chefe, que, além de fazê-lo trabalhar como professor, obriga-o a limpar a sujeira dos banheiros em que os homens costumam se masturbar. A vida humilhante e explorada de Harrison e seus medos e obsessões com violência e armas, além do casamento arranjado e infeliz promovem a entrada do rapaz no culto assassino de Anderson.
Já Ivy é chefe de cozinha e dona de um restaurante na vizinhança. Lésbica, casou-se com Ally, que conhecera em 2001. Ally, por sua vez, tem uma frágil saúde mental. Os eventos de onze de setembro deflagraram nela inúmeras fobias, que ela vem tratando, desde então. Ambas têm um filho, gestado por Ivy. Os problemas entre ambas ficam piores. Ally não vota em Hillary Clinton, quebrando a confiança que Ivy tinha nela, e a vitória de Donald Trump causa o retorno de seus sintomas, porque ela passa a ficar insegura com relação ao mundo em que vivem. Ivy, por sua vez, se ressente de que ela seja tão doente, não ame o filho como deveria, porque não foi ela que o gerou. Ivy acaba se envolvendo numa briga com Gary, durante uma manifestação pró-Trump e encontra Winter, uma garota que tem as mesmas ideias sobre feminismo e política que ela. Ambas começam a se relacionar e o ódio contra sua esposa, Ally, aumenta. Kai Anderson, então, consegue trazê-la para seu culto.
A série é um desenrolar de fatos entrecruzados, de enredo extremamente planejado, meticuloso. A abordagem do culto sádico e assassino à moda de Charles Manson faz referências a outros sociopatas adorados por seus seguidores, também criadores de cultos suicidas ou mortais, como é o caso de Jim Jones, Marshall Applewhite e David Koresh. Muitos não gostaram da associação entre esses cultos e a figura messiânica de Cristo, na série. De fato, o messianismo é a principal linha entre todas essas histórias, reais ou a fictícia da série. O tema é extremamente pesado e desconfortável para uma audiência que tem seus traços de sadismo, mas é seletiva em relação ao que vê, exatamente por ser majoritariamente cristã. O desenrolar dos eventos mostram algo que é possível, real. Um culto a uma personalidade assassina que usa o pensamento político de direita como organizador de ações violentas. Uma pessoa que manipula até mesmo quem é parte de minorias, como negros (a ressentida repórter de um telejornal, Beverly Hope) e LGBTQIAP+ em prol da violência e da morte.
De fato, a série expõe de maneira cruel como motivações pessoais podem levar a decisões violentas. A obra trabalha com o imaginário estadunidense que identifica a origem da violência no binômio individualismo/pressões sociais, que deformam o indivíduo potencialmente bom até que ele se torne incorrigível. Há também outros apelos ao imaginário popular, todos relacionados à irracionalidade da violência numa sociedade que se jacta por ser a primeira democracia do mundo pós-iluminismo. A ideia dos autores, Ryan Murphy e Brad Falchuk, é exatamente jogar com os elementos da liberdade norte-americana: sexualidade, eleições, direitos civis e as suas fraquezas: tensões de gênero, imigração, racismo, violência e direitismo. O mundo estadunidense, criado à moda europeia é uma farsa, por se apresentar como antidemocrático, violento, produtor de pessoas individualmente infelizes e humilhadas por suas características intrínsecas.
Os Estados Unidos retratados por Murphy e Falchuk é machista, homo-lesbofóbico, agressivo. Além de produzir pessoas potencialmente violentas, também coloca armas em suas mãos. Não é o mundo onde Ivy e Ally estariam seguras para criar seu filho. Também não é o mundo onde Harrison seria livre e desimpedido para sair do armário, viver de modo seguro e não se sentir humilhado por causa de sua condição sexual. O ano da história é 2017, a série se passa no presente de seu lançamento, num país pós-Trump, dividido e com diferenças individuais acirradas. Metáfora desagradável, perturbadora da sociedade estadunidense, ela se alarga também para o mundo em que vivemos, a série não foi muito bem recebida pela crítica, que desejava uma história menos ideológica, que coloca a imagem latente do presidente Trump ao fundo, servindo como exemplo para que valentões, assassinos e agressores também queriam seu lugar ao sol e sua fatia de poder.
A situação dos gays e lésbicas é central na história. Por meio de suas incertezas e lutas para coexistir num mundo hostil, o mal se alastra. Não é uma história que os classifica como maus. Ao contrário. Eles são vítimas de um mundo contraditório que os estimula a lutar numa guerra em que são perdedores natos. O valor que gays e lésbicas, mesmo brancos têm numa sociedade machista e, naquele momento, agitada por um presidente extremamente preconceituoso e chauvinista é muito pouco. A todo o momento, o drama de Ivy e Ally é potencializado pela violência. Os ataques de onze de setembro deixaram Ally doente e a eleição de Trump, quinze anos depois, cria, ao seu redor, um clima de incertezas e instabilidade, principalmente quando seu empregado latino, confundido com um invasor, morre ao entrar na casa de Ally, por um tiro que ela dispara, por uma arma dada por seus vizinhos. O drama de Harrison é perturbador. Seu medo de ser governado por um presidente de ideias progressistas, que tiraria dele suas armas, sua proteção faz alusões às inverdades espalhadas pela Internet durante as campanhas eleitorais, em que políticos caluniam seus opositores, usando a opinião do povo como forma de ataque. Seu pânico a respeito da retirada da Segunda Emenda da Constituição é irreal, assim como muitas outras fake news espalhadas na época. Harrison é infeliz no seu casamento arranjado que o deixava “acima de qualquer suspeita” para alguns, mas aparentemente exposto em outro flanco. Estar parcialmente no armário não é, para ele, uma opção, mas uma forma de poder continuar a ter alguma respeitabilidade. Seu casamento impede que ele viva com liberdade. Seu chefe, no trabalho, por causa de sua homossexualidade, o importuna constantemente. Harrison vive infeliz e desgastado.
A trama revela que o sociopata Anderson manipulava a todos, mas ele não é responsável pela infelicidade das personagens e nem ao menos pelo preconceito contra gays e lésbicas. A vida insustentável e infeliz das personagens são um produto das suas escolhas individuais, moldadas em ambientes hostis. Tensões, políticas, fake news espalhadas pela Internet e atitudes fascistas, machistas ligadas à política no mundo ocidental e sua periferia, nessa segunda década do século XXI, são muito reais, concretas. Fazem parte do mundo do telespectador.
A vida das personagens relacionadas a minorias, a condição feminina e os entraves à liberdade, frente ao machismo agressivo da sociedade encaixa-se, inclusive, no modo de vida de várias sociedades democráticas à sombra do mundo europeu e norte-americano. Embora a série televisiva se foque nas vivências pessoais, familiares dessas pessoas, fatos sociais de grande relevância aparecem. Não existe preconceito individual contra LGBTQIAP+ que seja separado de preconceitos socialmente construídos. A crítica ao capitalismo e suas produções de individualidades e conflitos é muito forte e atravessa toda a temporada, bem como a franquia, no ar há dez anos, que abarcam outras temáticas dentro do gênero de terror.
Recomendo a apreciação da série, não somente por seu conteúdo crítico, mas por seu choque de realidade. Enquanto a ficção nos mostra as dificuldades de gays e lésbicas em se organizar como núcleo familiar, as problemáticas da vivência de identidades da diversidade num mundo capitalista de contradições, no mundo real é comum a romantização dessas coisas. Ser gay, lésbica não é fácil. Desafios cotidianos se apresentam o tempo todo, a felicidade não é uma certeza, encontrar o amor de sua vida não significa idilicamente terminarmos todos, juntos e rodeados de netos e bisnetos, casais LGBTQIAP+ morrendo em idade avançada, tendo vivido um sonho burguês e heterossexual de família. Esse talvez nem deveria ser nosso sonho, com todo o respeito às configurações mais tradicionais de amor homossexual. Não quero contestar o que dá certo, apenas questionar se o que dá certo para alguns seja a resposta para todos.
Embora a violência gratuita da série seja um efeito da história de ficção, porque claramente não temos um exército de sociopatas manipuladores nos atacando insidiosamente, é preocupante o fato de que muitos de nós sejamos infelizes e a vivência homossexual individual, entre casais ou grupos seja insignificante, vazia ou não seja notada, percebida ou respeitada pelas nossas autoridades. Fica essa reflexão importante para os nossos tempos, em que Trumps ganham e perdem, e o mundo do poder e decisões passam ao nosso largo porque somos vítimas de políticas governamentais e de um sistema econômico que insiste em não nos aceitar no meio dele na totalidade. Uma das frases mais impactantes da série é de cunho político: “Vote em quem pode livrar-lhe de seus medos”. Nós, LGBTQIAP+ representamos um dos medos de uma sociedade conservadora que ainda insiste em querer viver num mundo em que não somos livres. Já nós, precisamos votar em quem nos dê mais esperança de um mundo melhor.
Por Alex Mendes
para sua coluna O Poder Que Queremos
Foto: Reprodução